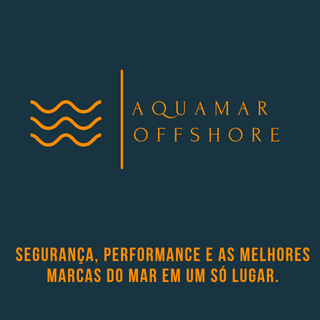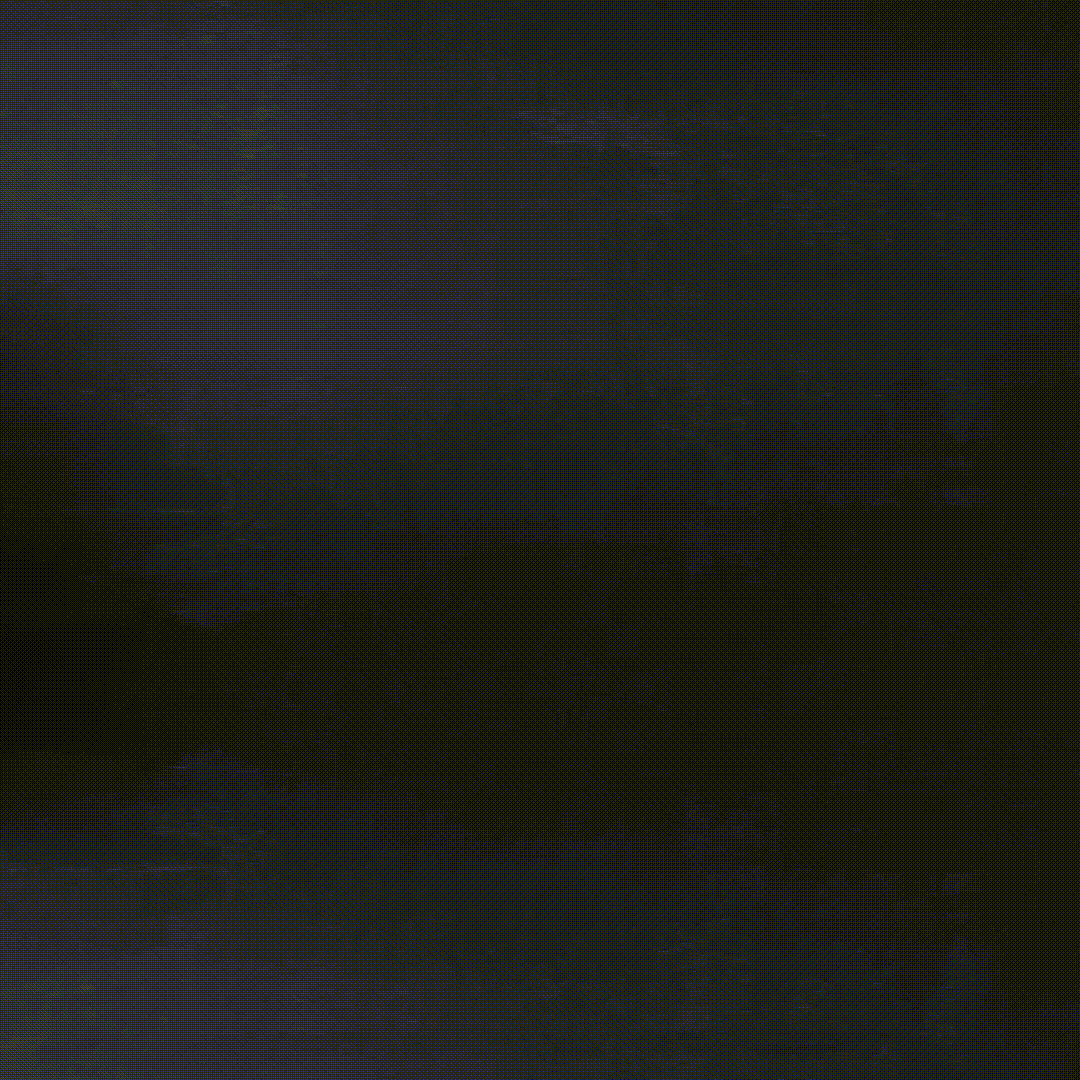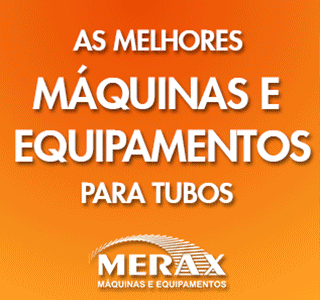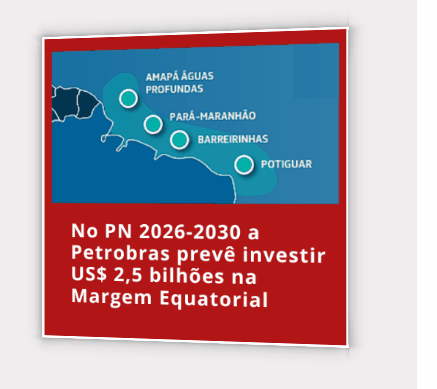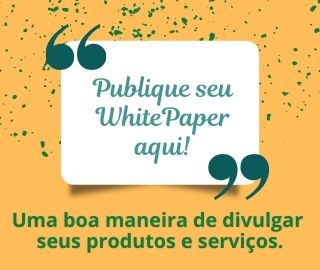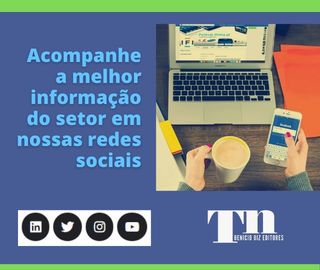Como consolidar um ecossistema de inovação em infraestrutura crítica, integrando os setores elétrico e de óleo e gás, por Lucas Ferreira Lima
Redação TN Petróleo/Assessoria Concert Lab
23/09/2025 08:07

A inovação tecnológica, especialmente quando aplicada a setores estratégicos, exige mais do que boas ideias: requer sistemas robustos, sinergias institucionais e ambientes operacionais propícios à experimentação e à escalabilidade. No Brasil, os setores elétrico e de óleo e gás configuram um dos contextos mais desafiadores — e, ao mesmo tempo, mais férteis — para a inserção de soluções inovadoras. Como infraestruturas críticas que sustentam o funcionamento do país, ambos operam sob elevadas exigências de confiabilidade, segurança, continuidade operacional e conformidade regulatória.
Ao longo das últimas duas décadas e meia, o Brasil estruturou um arcabouço regulatório que promove, com razoável consistência, o fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) nesses setores. Desde 1998, os programas regulatórios da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) têm viabilizado milhares de projetos que vão desde o desenvolvimento de sensores submarinos e automação de plataformas offshore até tecnologias avançadas para redes inteligentes, digitalização da distribuição, armazenamento de energia e descarbonização da matriz energética.
Do ponto de vista do investimento, segundo a ANP, mais de R$ 35 bilhões já foram mobilizados apenas em projetos vinculados à cláusula de PD&I nos contratos de exploração e produção de petróleo. De forma paralela, o programa regulatório da ANEEL — com volume de investimento comparável, embora um pouco menor — já aprovou milhares de projetos voltados à transição energética, confiabilidade da rede elétrica, fontes renováveis, armazenamento de energia e digitalização da distribuição. Segundo informes da própria Agência, trata-se de um dos maiores programas setoriais de inovação do mundo em número de projetos e diversidade temática.
Ainda que existam distinções culturais, jurídicas e operacionais entre os setores, eles compartilham atributos técnicos estruturais — como ampla capilaridade territorial, elevada complexidade operacional, custos altos de falha e crescente pressão por eficiência. Isso os torna ambientes especialmente favoráveis à adoção de tecnologias habilitadoras como sensoriamento remoto distribuído, inteligência artificial embarcada, gêmeos digitais, modelagem geoespacial, arquiteturas interoperáveis e cibersegurança industrial. Há, inclusive, uma crescente convergência entre as soluções adotadas, com tecnologias desenvolvidas inicialmente para o setor elétrico, sendo adaptadas com sucesso a ambientes offshore e vice-versa.
Nesse processo, destaca-se a importância do ecossistema tecnocientífico nacional, que envolve universidades, institutos federais, ICTs especializados, unidades Embrapii e os institutos SENAI de inovação e tecnologia. Essas instituições desempenham papel essencial nas fases iniciais de desenvolvimento tecnológico, entre os níveis de maturidade TRL* 1 a 6, contribuindo para a formação de recursos humanos, experimentação científica e desenvolvimento de protótipos funcionais. No entanto, transformar esse conhecimento técnico em soluções de escala exige novos atores, novas articulações e agilidade decisória.
É neste ponto que entram as startups deep tech e as empresas de base tecnológica, que operam nos estágios mais avançados do ciclo de inovação (TRL 6 a 9). Com maior flexibilidade, foco em produto e maior tolerância ao risco, essas organizações vêm atuando como elo decisivo entre os ambientes de pesquisa e o mercado. Quando integradas a programas de inovação aberta conduzidos por grandes operadoras e centros de PD&I, elas potencializam a efetividade das políticas públicas, transformando provas de conceito em soluções reais, de alto potencial de impacto e escaláveis.
O NAVE da ANP representa um exemplo emblemático de como programas estruturados podem potencializar a integração entre startups e grandes operadores do setor de petróleo e gás. Com mais de 200 empresas validadas na primeira edição e ampla participação das grandes empresas do setor de óleo e gás, o programa demonstra o poder transformador da cooperação entre ICTs, startups e a indústria consolidada. Ao mesmo tempo, existe um caminho claro para ampliar ainda mais seu impacto, tornando-o contínuo e integrado ao ecossistema nacional de inovação, à semelhança do fluxo da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), com ciclos permanentes de avaliação, aceleração e financiamento, de modo que soluções promissoras avancem rapidamente do estágio de prova de conceito para tecnologias de escala industrial.
O Estado brasileiro tem sinalizado avanços relevantes. Programas como o Plano Nacional de Inteligência Artificial, a Nova Indústria Brasil, o MOVER (Mobilidade Verde e Inovação) e os incentivos recentes ao hidrogênio de baixo carbono são passos importantes para a constituição de uma política industrial orientada à inovação. Ainda assim, os desafios permanecem. O investimento nacional em PD&I, hoje estimado em cerca de 1,2% do PIB, está significativamente abaixo da média internacional. Esse valor representa, por exemplo, menos da metade da média proporcional investida pelos Estados Unidos, de acordo com o Centro Nacional de Estatísticas de Ciência e Engenharia (NCSES, na sigla em inglês). Quando se consideram os valores absolutos e a paridade do poder de compra, esse hiato se torna ainda mais expressivo, refletindo a diferença entre economias com produtos internos brutos de escala mais de 13 vezes maior. Além disso, a fragmentação das agendas setoriais e a baixa articulação entre os diferentes agentes também limitam a escala, a perenidade e o impacto transformador dos projetos.
Diante disso, é necessário avançar no sentido de uma governança mais integrada e estratégica. Uma lacuna relevante a ser superada diz respeito à interlocução direta entre os programas regulatórios da ANP e da ANEEL — sobretudo em temas transversais que afetam profundamente ambos os setores, como transformação digital, inteligência artificial, automação e controle, monitoramento remoto e preditivo, descarbonização, para citar alguns. A ausência de convergência entre essas agendas representa não apenas uma ineficiência institucional, mas uma oportunidade desperdiçada de gerar sinergias tecnológicas e ganhos de escala.
Um exemplo recente e positivo nesse sentido foi a iniciativa da Embrapii, em 2024, que passou a permitir que empresas do setor elétrico contratassem institutos de pesquisa com recursos incentivados originalmente destinados exclusivamente ao setor industrial. Essa mudança regulatória, embora simples em sua formulação, teve um efeito simbólico e estrutural importante: reconheceu a transversalidade de certos desafios tecnológicos e abriu espaço para uma maior fluidez na execução de projetos cooperativos. Contudo, mesmo essa alteração ainda não resultou em pleno engajamento dos interlocutores, pois persistem barreiras ligadas à governança, à modelagem econômica e à compatibilidade de incentivos entre as agências envolvidas.
Se quisermos lidar com as restrições orçamentárias, com a complexidade das cadeias produtivas e com os desafios geopolíticos da transição energética, será necessário fortalecer o modelo de governança multinível que articule institutos, universidades, empresas de base tecnológica e startups. Esses últimos, em particular, são hoje elementos-chave para dinamizar a inovação no país — não como substitutos dos atores tradicionais, mas como catalisadores de soluções em ritmo industrial. Com uma estrutura regulatória mais fluida, mecanismos de fomento mais articulados e metas orientadas a missões, o Brasil poderá consolidar um ecossistema de inovação em infraestrutura crítica à altura de seus desafios — e de suas oportunidades.
Sobre o autor: Lucas Ferreira Lima é Especialista em Inovação da Concert Lab.
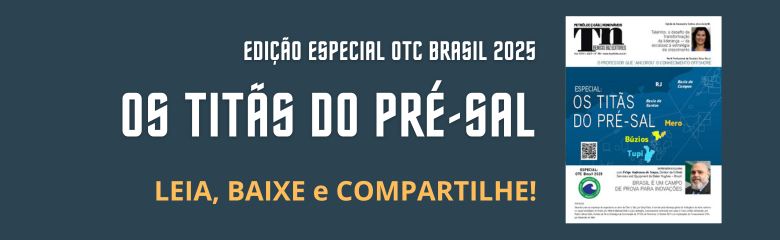

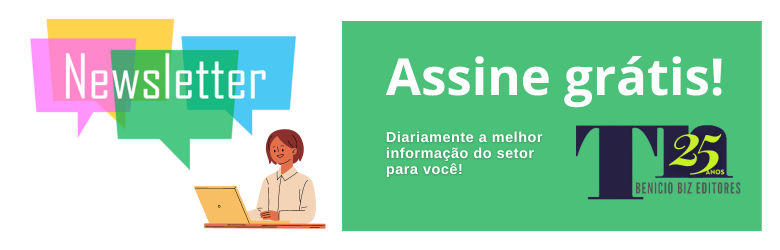
PN 2026-2030 - Novo ciclo de oportunidades é apresentado...
08/12/25Projeto da Petrobras em parceria com a CERTI é vencedor ...
08/12/25Ineep apresenta recomendações estratégicas para início d...
08/12/25Primeiro complexo híbrido de energia da Equinor inicia o...
08/12/25Parceria premiada - Petrobras participa de quatro dos se...
05/12/25Petrolíferas debatem produção mais limpa e tecnologias d...
04/12/25PPSA arrecada cerca de R$ 8,8 bilhões com a alienação da...
04/12/25Novo Manual de Licenciamento Ambiental da Firjan ressalt...
04/12/25Óleo & gás continuará essencial até 2050, dizem especial...
04/12/25Leilão da PPSA oferecerá participação da União em áreas...
04/12/25IBP debate sustentabilidade e novas tecnologias para o f...
03/12/25Casa dos Ventos conquista Medalha Bronze em sua primeira...
03/12/25PPSA adia leilão de petróleo da União de Bacalhau para o...
03/12/25Firjan lança a 4ª edição do estudo Petroquímica e Fertil...
03/12/25Porto do Açu e Van Oord anunciam primeira dragagem com b...
02/12/25Indústria de O&> prioriza investimento em tecnologia de ...
02/12/25Petrobras irá investir cerca de R$12 bilhões na ampliaçã...
02/12/25Proposta de elevação da alíquota do Fundo Orçamentário T...
01/12/25Distribuição de gás canalizado é crucial para a modicida...
01/12/25Centro de Formação Profissional da Universidade Tiradent...
01/12/25TGS inicia pesquisa na Bacia de Pelotas
01/12/25